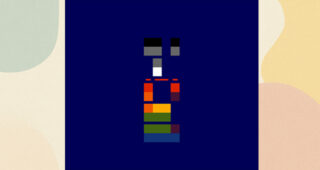Entrevista: Luiz Gabriel Lopes

foto por fusca azul coletivo
Trabalhando com música há quase uma década, é fácil notar como alguns nomes e rostos acabam sendo mais frequentes do que outros em nossa vida, seja a como profissional ou a como ouvinte. Luiz Gabriel Lopes é – e meio que sempre foi – um desses. Seja com todo o trabalho que faz com Graveola (uma banda mais do que presente aqui no Música Pavê), pela surpresa em vê-lo com o projeto Terra das Laranjeiras ao vivo, clipes, vídeos ao vivo, músicas suas em playlists e sua presença em shows de músicos que admiramos em comum, isso quando não é uma apresentação sua que vou ver, LG é alguém constante em nosso universo – daí também a surpresa ao constatar que ainda não havia uma entrevista sua no site, embora a impressão, depois de tantas conversas ao longo dos anos, seja a de já ter publicado algum desses papos.
Desta vez, a entrevista chega na celebração de um fim de semana com dois shows gratuitos em São Paulo para apresentar o conteúdo de seu disco Mana, lançado em 2017. Você notará que, como costuma acontecer com os artistas mineiros, LG conversa com uma poesia orgânica, que reflete a forma com que ele e suas músicas se relacionam com o mundo. Por telefone, ele comentou sobre os processos que geraram o álbum, seu ofício como compositor e a produção musical brasileira de hoje, tudo com o mesmo carinho e relevância que notamos em sua obra.
Música Pavê: Vamos começar pelo show: Como foi a decisão de levar ao palco a formação de quarteto para apresentar Mana?
Luiz Gabriel Lopes: É a mesma banda que gravou o disco. Sobre a sonoridade, eu costumo dizer que a vida do artista é essa dialética entre quebra e continuidade. Eu vinha de um trabalho anterior, Fazedor de Rios, todo acústico em um formato mais sinfônico, com muito arranjo e muita instrumentação, e eu já estava mastigando essa vontade de fazer um trabalho de formação mais enxuta, levando para esse lado também da elétrica, de baixo, batera e guitarra, e aí surgiu essa ideia da flauta como um elemento melódico que sobrevoasse tudo e que também trouxesse uma identidade para o som. Ela acaba assinalando um astral do disco, uma coisa meio onírica, parece um pássaro que sobrevoa as músicas. Uma referência grande foi o Unplugged do [Gilberto] Gil, que tem a flauta do Lucas Santtana – pouca gente sabe, mas a flauta é dele (risos) -, a flauta presente com os contracantos nas canções, assinalando essa sonoridade. Essa formação tem um lance meio água, fogo, terra e ar, de cada um exercer um papel muito bem definido e, portanto, não existe disputa por espaço, é tudo muito harmônico.
MP: Falar de espaço e de harmonia tem muito a ver, na minha perspectiva, com o trabalho que você assina solo. Em todos os seus discos, percebo uma intenção de organização muito grande, mesmo quando há muitos elementos simultâneos. Como você, enquanto co-produtor, trabalha os timbres a favor das suas composições?
LG: Acho que tem a ver com um processo de construção dos meus discos solo, que sempre foi algo muito intuitivo. Esse disco, assim como os outros, é muito “sentido”, muito vivido e pouco pensado. Eu não trabalhei em cima de muitas referências, as coisas foram se mostrando através dos fluxos naturais dos encontros. A formação da banda tem a ver com a relação afetiva pessoal e subjetiva que desenvolvi com cada um desses músicos e como eles abraçaram a construção desse trabalho, doando suas energias de forma muito generosa e harmônica. É um exercício de intuição, principalmente, que conduz essa sonoridade. E quando estou no papel de produtor, eu me abro às coisas que estão acontecendo, mas é como se existisse um guia, um norte constante que me lembra aonde eu quero chegar. Eu sei exatamente o que eu quero e o que não quero também, mas isso vai sendo feito de maneira muito intuitiva. A gente não trabalhou com arranjos escritos, foram coisas sendo feitas no fluxo da prática mesmo.
MP: Para você, qual a diferença de lançar um disco solo ao invés do nome de uma banda?
LG: Cara, essa organização dessa produção nessas gavetas diz respeito a uma coisa mercadológica, de ter que separar essas coisas para que elas sejam entendidas melhor, mas acho que, naturalmente, isso acaba definindo caminhos internos de cada trabalho. Eu ter que assinar um trabalho com meu nome é um gesto com uma responsabilidade diferente. Tem a ver com processos internos, com uma posição de tomada de decisão final sobre as coisas, e assumir essa responsabilidade de que aquilo ali representa algo que eu acredito plenamente, que me doei inteiramente. A diferença de um processo compartilhado é que talvez as coisas recaiam em um lugar mais subjetivo da minha visão de mundo, do meu sentimento de mundo. Esse trabalho, assim como os outros solo, é a construção de uma trajetória singular, ao contrário do que faço com Graveola, por exemplo – apesar de trazer marcas individuais de cada um -, que é coletivo enquanto processo.
MP: O trabalho solo também me parece ter a característica de um registro de um momento individual na sua trajetória como músico, como artista, mas também como pessoa.
LG: Sim, é a fotografia de um momento.
MP: Pois é, e eu sinto que Mana reflete, de igual forma, um momento que não é só seu, mas que vivemos como coletivo. Como foram as decisões de incluir essas mensagens no álbum, de pensar no que “precisa ser dito”?
LG: Acho que é um fluxo inverso. Tem aquela coisa de que, se você fala de si, você fala do todo, que a profundeza do mergulho que você dá em si mesmo permite o encontro de algo que exista no imaginário coletivo. É aquela frase do André Abujamra: “O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente”, o que parece um paradoxo, mas não é, porque as coisas são espelhadas e existe essa coisa de você atingir o que é coletivo, social ou histórico através também da sua vivência espiritual, pessoal. A gente conhece o mundo a partir da gente mesmo. O nosso lugar de fala é isso, é o lugar de dentro. Acho que isso que você assinalou, a vontade de dizer algo específico, vem disso. As pessoas me perguntam muito de um discurso otimista, pacifista ou de fraternidade que está no subtexto de muitas canções do disco, e acho que isso foi uma coisa que ganhou força conceitualmente para mim quando percebi que fazia sentido, que era necessário que isso reverberasse. É uma responsabilidade muito grande lançar essas coisas no mundo, porque elas vão reverberar infinitamente. A gente não tem controle de quantas vezes uma pessoa vai ouvir um refrão, uma frase que você disse, e a sua voz dizendo aquilo, reverberando infinitamente… há uma responsabilidade quântica, no sentido que essas coisas transformam a realidade. Eu acredito nisso, eu vivi muito isso. A música é um elemento que povoa o meu cotidiano de maneira transformativa, interfere no curso das coisas, e quero usar isso de maneira positiva, curativa. Tinha um pouco essa vontade que foi se fortalecendo quando percebi que estamos vivendo um momento de muita descrença nas instituições políticas, um momento de enrijecimento dos corações, dos sentimentos socialmente expressos. Essa cultura do ódio, essa polarização em que tudo é “eu contra você”, ou “eles contra eles”, né? Eu senti necessidade também de me colocar na contramão disso e dizer que existe irmandade, que o que é bom permanece, que a gente tem que se fixar nessas coisas, se fortalecer. A gente está numa transição de era, a modificação que está acontecendo no planeta é visível e existe também uma falência de várias instituições, que é o que cria esse contexto de desespero, de descrença. Então, as pessoas que estão claramente posicionadas contra isso, que acreditam em uma renovação, em outra maneira de existência, em uma outra forma de relação com a natureza e com a sociedade, uns com os outros, essas pessoas têm que se unir. De alguma maneira, estou dando minha contribuição para isso, energeticamente vibrando de um lugar de poder criar e fortalecer essas realidades. Foi importante para mim me posicionar com essa forma de ver as coisas, e não me colocar naquela postura de simplesmente descrever a desgraça (risos), de simplesmente fazer uma leitura crítica de maneira niilista. Eu não acredito em niilismo, a gente tem que ter um otimismo produtivo. Essa ideia de “terrorismo poético”, essas ideias da revolução do que é sutil. Acredito muito nisso. A revolução, para mim, tem muito a ver com a renovação da consciência, e, de alguma maneira, estou me posicionando nessa linha, querendo contribuir com a construção desse lugar, sabe?
MP: Você é um artista que viaja e dialoga muito com vários outros músicos pelo país. Na sua percepção, que momento a produção musical brasileira está vivendo? Por exemplo, se eu fosse um estrangeiro, como você explicaria nossa música?
LG: Existe uma pluralidade muito grande, são muitos mergulhos sendo feitos. Eu sou um grande entusiasta dessa possibilidade, dessa democratização da produção, e acho que a Internet tem um papel muito interessante nisso, que é de possibilitar umas brechas através das quais as coisas acontecem e a gente se depara com produções vindas de todos os lugares, de maneiras muito diferentes. Acho que tem um vácuo de referências que permite que as pessoas produzam coisas com caminhos muito diferentes do ponto de vista estético. Eu tenho relações afetivas com uma série de trabalhos, de coisas que foram lançadas recentemente, que me alimentam e me servem de referência. Eu, particularmente, sou um admirador de coisas muito diversas. Não tenho uma visão de só gostar do que parece comigo, sabe? Pelo contrário, fico bastante intrigado sempre e curioso com as coisas que são feitas de maneiras diferentes, me alimento muito da produção. Minha visão é essa, que existe muita coisa boa sendo feita e que a gente tem que ter intuição e atenção para traçar uma caminhada no meio disso e se alimentar do que faz sentido para a gente. Acho que a música tá aí pra isso, cotidianamente fortalecer a gente para seguir uma jornada e mudar as coisas para melhor. Acredito muito nesse combustível espiritual. E acho que a música brasileira está em um nível muito rico de se transformar e se redescobrir, de apontar para as referências da tradição, mas também para as intergaláticas por aí. E tá todo mundo junto construindo uma coisa que se mantenha viva, e que esse ofício do compositor não seja subjulgada por questões de mercado ou do que quer que seja, porque a canção tem muita força. A gente é um país onde a canção popular talvez represente o que a literatura é para Portugal, ou o cinema na França. É um dado muito rico para nossa experiência de país. Recentemente, estava viajando pela Amazônia e, uma hora, sentei com uma molecada com o violão, em um barco, e eles começaram a tocar Legião Urbana (risos). É nessa hora que você vê a potência da parada, tanto depois depois que foi lançada, a molecada de 15 anos ainda se relaciona com aquilo. Quer dizer, não é o mercado, é a força da coisa em si, é o que aquilo ali diz e vai continuar dizendo. Acho muito interessante essa cartografia dos interiores, o que pega e quais são as referências nos rincões do Brasil – Raul Seixas, Zé Ramalho, Renato Russo, esses caras que disseram tantas coisas que ainda fazem sentido e estão até hoje se transformando. É muito rico, a gente tem muito o que absorver e muito o que produzir. Acho que é uma caminhada bonita e essa nova era também abre um portal muito fértil para a gente.

Curta mais entrevistas exclusivas no Música Pavê
 Música Pavê
Música Pavê